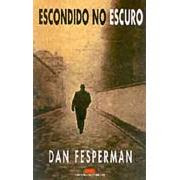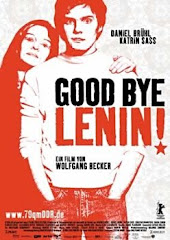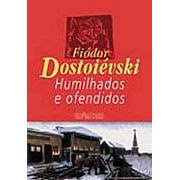Historiador levanta debate sobre ditador responsável pela morte de milhões, e que, ainda assim, passou a ser visto como herói nacional na Rússia

Apoio. Eleitores do Partido Comunista marcharam com bandeiras de Stalin no Dia dos Trabalhadores, no ano passado, em Moscou. Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/AP
BERLIM - Sessenta anos depois da morte de Josef Stalin, um livro escrito pelo historiador alemão Jörg Baberowski reabre o debate sobre um dos piores ditadores do século XX, responsável pela morte de seis a vinte milhões de pessoas. Em “Verbrannte Erde, Stalins Herrschaft der Gewalt” (ou “Terra queimada, o regime de violência de Stalin”), Baberowski, da Universidade Humboldt de Berlim, afirma que o ditador, morto em 1953, era um psicopata, um sádico, que não apenas mandava matar tendo em vista metas políticas.

Apoio. Eleitores do Partido Comunista marcharam com bandeiras de Stalin no Dia dos Trabalhadores, no ano passado, em Moscou. Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/AP
BERLIM - Sessenta anos depois da morte de Josef Stalin, um livro escrito pelo historiador alemão Jörg Baberowski reabre o debate sobre um dos piores ditadores do século XX, responsável pela morte de seis a vinte milhões de pessoas. Em “Verbrannte Erde, Stalins Herrschaft der Gewalt” (ou “Terra queimada, o regime de violência de Stalin”), Baberowski, da Universidade Humboldt de Berlim, afirma que o ditador, morto em 1953, era um psicopata, um sádico, que não apenas mandava matar tendo em vista metas políticas.
- Ele ficava satisfeito ao ver o sofrimento das suas vítimas - diz Baberowski, lembrando que, se não tivesse sido um ditador, teria provavelmente se tornado um criminoso psicopata.
Ainda assim, seis décadas depois da sua morte e da revolução cultural iniciada por Nikita Kruschev, Stalin voltou a ser visto na Rússia como um herói nacional porque, segundo especialistas, representa a lembrança de uma era de apogeu, a época em que a União Soviética venceu o maior inimigo do mundo, o exército nazista de Adolf Hitler.
Se na Alemanha não há nenhuma dúvida sobre o papel de criminoso e de assassino das massas de Hitler, na Rússia Stalin continua dividindo opiniões. Depois dos anos de ostracismo, durante os governos de Mikhail Gorbachev e de Bóris Yeltsin, o antigo ditador voltou a ser venerado não só pelos comunistas, fora do poder desde 1991. Desde o início da era do presidente Vladimir Putin, em 2000, ele voltou a ter um papel mais heroico.
De acordo com o Centro de Pesquisa Lewada, de Moscou, 32% dos russos e moradores das antigas repúblicas soviéticas veem Stalin de uma forma negativa. No entanto, para 47% da população, Stalin teve um papel positivo, enquanto que 18% são ainda stalinistas convictos. A maioria vê o ditador não apenas como o homem que venceu Hitler, mas também como o responsável pela industrialização da União Soviética e por sua transformação em uma superpotência, diz a pesquisa.
Fundador de uma superpotência
De fato, os novos livros didáticos, reescritos por iniciativa do Kremlin, mostram Stalin como um “bom estadista” e “fundador de uma superpotência”. A “potência” deixou de existir com a desintegração da União Soviética, em 1991, mas a nostalgia das antigas dimensões do império ainda hoje une os russos. Outro sinal da divisão dos russos em relação a Stalin, que nasceu na cidade de Gori (hoje Geórgia), em 1879, como Josef Vissarionovitch Djugasvili, pode ser visto esta semana, período em que é lembrado o 60º aniversário de morte do ditador.
Enquanto Gennadi Zyuganov, chefe do partido comunista russo - o segundo maior no Parlamento, depois do “Rússia Unida”, do presidente Putin - falava sobre Stalin como “o estadista que tirou o império da crise”; Arseni Roginski, da ONG “Memorial”, lembrou que nada mais define Stalin do que a lembrança dos anos de 1937 e 1938, quando milhões de pessoas foram presas e 700 mil condenadas à morte.
- Se comparamos os piores ditadores do século XX, Adolf Hitler e Josef Stalin, podemos notar que Stalin tinha uma relação mais pessoal com a violência. Ele ficava satisfeito ao ver o sofrimento das suas vítimas, dos inimigos que mandava eliminar. Hitler foi igualmente um terrível ditador, claro, mandava também matar milhões, mas tinha uma relação mais distante com a violência. Não necessariamente gostava de ver as imagens - opina Baberowski.
O homem que, de 1924 a 1953, transformou a União Soviética em um “império da paranoia” não sabia mais, no final, diferenciar os amigos dos inimigos e mandava matar também os primeiros, porque estava sempre em busca de um novo alvo. Quando ele falava, precisava ser aplaudido por muito tempo. Se alguém, mesmo um aliado, parasse de aplaudir cedo demais, arriscava ser condenado à morte.
- Ele mandava matar as pessoas por banalidades e com isso mostrava aos que sobreviviam o que podia acontecer com aqueles que não aceitassem a submissão completa - diz Baberowski.
Quem, desde cedo, não aceitou as regras ditadas por Stalin foi Lew Bronstein, mais conhecido como Leon Trótsky, que se considerava herdeiro natural de Vladimir Lenin, mas perdeu a luta pelo poder contra seu adversário. Stalin tinha mais o apoio das pessoas simples, das aldeias, das minorias, dos que entendiam pouco do intelectualismo de Trótsky, que fugiu para o exílio, sendo assassinado no México.
Embora o chamado “trotskismo” tenha entrado para a História como o ideal do marxismo, Baberowski desfaz a ilusão de que Trótsky teria sido muito melhor do que Stalin. O que teria acontecido se Stalin tivesse perdido a luta pelo poder? Para Baberowski, Trótsky não teria sido um humanista, como muitos pensam, mas, acredita, tampouco seria um sádico, como Stalin.
- Com Trótsky à frente do PC soviético, o cenário teria sido também sangrento - defende. - Mas o terror teria sido menor no sentido de que Trótsky não teria tido a mesma paranoia que teve Stalin, que mandava matar também os adeptos e aliados.
Quando Stalin morreu, em 5 de março de 1953, mesmo as suas vítimas, os perseguidos que tinham voltado da guerra contra Hitler e tinham sido levados diretamente para os gulags, os campos de concentração soviéticos, reconheciam a importância da vitória da “grande guerra da pátria”, como a Segundo Guerra é chamada.
Em pouco tempo, no entanto, as pessoas mudaram de opinião sobre Stalin. Quando seu sucessor, Nikita Kruschev mandou abrir os arquivos do stalinismo, assumindo a sua própria responsabilidade por alguns dos crimes cometidos, um clima de primavera, de revolução cultural, tomou conta da União Soviética. Quem divergia do regime, não era mais executado, mas apenas “aposentado”. No plano cultural, começaram a acontecer coisas impensáveis durante o domínio de Stalin.
A sociedade estava traumatizada, mas começava, lentamente, a gozar das novas liberdades, como assistir a uma exposição de quadros de Pablo Picasso, o que antes era proibido, ou a um concerto de jazz de uma banda americana. E o livro de Alexander Soljenítsin, prêmio Nobel de Literatura de 1970, pode ser publicado no país, em 1962.
Os ventos amenos da primavera soviética sob Kruschev terminaram bruscamente em 1964. A crise de abastecimento, os problemas econômicos e a expansão do movimento dos dissidentes fizeram com que os comunistas fundamentalistas, liderados por Leonid Brejnev, assumissem o poder em 1964. Com Brejnev, terminou o processo de prestação de contas com a era sombria do stalinismo. Hoje, embora não negue os crimes do stalinismo, o Kremlin procura enfatizar o lado positivo de Stalin como o herói da Segunda Guerra.
Fonte: O Globo